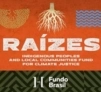Foto: Matheus Tanajura – Articulação do Centro Antigo /Acervo Fundo Brasil
Violências, no plural, com V maiúsculo. São inúmeras as formas de agressão direcionadas às mulheres no Brasil, em especial às mulheres negras. Historicamente e ainda no cotidiano, elas enfrentam situações que escancaram não apenas a misoginia, mas também as desigualdades sociais, educacionais e territoriais, somadas a diversas formas de poder exercidas de maneira brutal contra seus corpos.
As mulheres negras ocupam, majoritariamente, postos precarizados, recebem os menores salários, têm acesso reduzido a serviços de saúde e educação de qualidade. Ainda estão entre as principais vítimas da violência doméstica, da negligência institucional e da invisibilidade social. Quando, a essa realidade, soma-se a condição de deficiência, as barreiras de acesso, de pertencimento e de dignidade tornam-se ainda mais severas, como afirma a Comissão de Promoção da Igualdade Racial, Gênero e Diversidade do Instituto Benjamin Constant.
Múltiplas violências “normalizadas”
O uso do termo Violências no plural é proposital: não se trata apenas de agressões físicas — que, aliás, nem sempre deixam marcas visíveis. A Lei Maria da Penha reconhece que as violências domésticas contra mulheres podem ser psicológicas (dano emocional e diminuição da autoestima, controle de ações, comportamentos, crenças e decisões), sexuais (constrangimento para presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada), patrimoniais (retenção, subtração ou destruição de bens e documentos) ou morais (calúnia, difamação e injúria).
Segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher Negra realizada pelo DataSenado e pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, 53% das mulheres negras que sofreram violência doméstica tiveram a primeira experiência antes dos 25 anos. Entre os tipos relatados, 87% sofreram agressões psicológicas, 78% físicas, 33% patrimoniais e 25% sexuais. Nos últimos 12 meses, 18% foram alvo de falsas acusações, 17% viveram episódios de gritaria ou quebra de objetos, 16% foram insultadas, 16% humilhadas e 10% ameaçadas.
E o pior de tudo é que essas violências não se limitam ao lar. As práticas naturalizadas, que se repetem nas ruas, no trabalho, na mídia e ao nosso lado, revelam contornos estruturais.
Emprego e saúde: um ciclo de desigualdade
Falamos um pouco acima, mas você já parou pra pensar onde trabalham as mulheres negras que conhece? De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, 10,1% das mulheres negras estão desempregadas e, entre as que trabalham, a renda média equivale à metade da recebida por homens brancos. Diante dessa realidade, muitas recorrem ao empreendedorismo, frequentemente de forma precária e informal, o que dificulta inclusive a contribuição para a Previdência Social. Pesquisa do SEBRAE de 2021 indica que 47% das empreendedoras brasileiras são negras — um dado que reflete tanto resiliência quanto a falta de oportunidades formais.
No campo da saúde, a desigualdade também é evidente. O estudo “Nascer no Brasil 2”, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que entrevistou mais de 24 mil mulheres entre 2020 e 2023, aponta que adolescentes ou mulheres com mais de 35 anos, negras, usuárias do SUS e com baixa escolaridade, têm maior risco de sofrer violência obstétrica. Esse tipo de abuso — que pode incluir tratamento desumanizado ou uso excessivo de medicação — compromete a autonomia da paciente e sua capacidade de decidir sobre o próprio corpo.
O espaço acadêmico e o “não-lugar”
Apesar da proporção da população negra (preta e parda) com ensino superior completo no Brasil ter aumentado mais de cinco vezes entre 2000 e 2022, segundo dados do IBGE, a desigualdade racial na educação persiste. A taxa de conclusão do ensino superior entre brancos foi de 25,8% em 2022, o dobro da registrada para pretos e pardos.
Esse sentimento de deslocamento no meio acadêmico é descrito pela professora da Universidade Federal da Bahia, Barbara Karine, em seu livro E eu, não sou intelectual?. Ela conta que, ao ingressar na universidade, sentiu a “timidez” típica de pessoas negras em espaços majoritariamente brancos — a sensação do não-lugar, do sujeito que se percebe estrangeiro naquele ambiente. “Passei a falar menos e a querer não ser notada naquele espaço”.
Ancestralidade como princípio organizador do mundo e horizonte
Para extinguir a ideia do não-lugar e garantir o direito de ocupar mais espaços, podemos evocar um conceito-chave do feminismo negro: a ancestralidade. Defendido por intelectuais como Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, a ancestralidade passa a ser um horizonte para as mulheres negras, um futuro imaginado a partir das lutas e das experiências das suas ancestrais.
“Pensar sobre ancestralidade exige mais do que referências ao passado; é necessário um mergulho na complexidade de seus sentidos e um compromisso com as formas pelas quais ela informa, sustenta e desafia modos de pensar e produzir conhecimento”, afirma a professora e doutora em História Ana Paula Cruz. Para Lélia e Beatriz, a teoria nunca se dissocia da experiência vivida. Usar a ancestralidade como categoria analítica permite que populações negras, indígenas e quilombolas interpretem suas próprias histórias e significados, para então avançar a partir dos seus próprios desejos.
Datas como 25 de julho — Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha — são importantes para quebrar a invisibilidade das mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais. Assim como Tereza de Benguela, mulher negra e líder quilombola, que no século XVIII, comandou o Quilombo do Quariterê por décadas, o feminino negro carrega estratégias e saberes para enfrentar múltiplas formas de violência e silenciamento. Mas nós também podemos ajudar a eliminar barreiras e caminhar lado a lado com esse movimento.
Compromisso com a Justiça Racial e de Gênero
O combate ao racismo no Brasil exige ação concreta, investimento e, principalmente, o fortalecimento das vozes que já estão na linha de frente dessa luta. É por isso que o Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia financeiramente e institucionalmente organizações da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos da população negra.
Faz isso por meio de editais específicos, como o “Enfrentando o Racismo a partir da Base”, que direciona recursos para grupos, coletivos e organizações liderados por pessoas negras. Assim, é possível fortalecer a resistência em diferentes frentes: na luta por direitos de mulheres negras, na defesa de pessoas negras LGBTQIA+, no apoio a comunidades quilombolas e até no combate ao racismo que se espalha pelos meios digitais.
Um exemplo desse impacto é o trabalho do Grupo de Mulheres Negras Malunga, em Goiás, apoiado pelo Fundo Brasil em edições anteriores. Criado a partir da necessidade de mulheres negras de se articularem com base em suas experiências concretas, o coletivo buscou caminhos para enfrentar seus desafios e construir soluções.
Com o apoio do edital, o grupo fundou a Rede de Mulheres Negras do Centro-Oeste, ampliando a mobilização regional e fortalecendo a defesa dos direitos humanos, especialmente em favor das mulheres negras.
Mais do que financiar projetos, essa atuação contribui para que a transformação social seja construída a partir das experiências, saberes e lideranças negras que, há séculos, sustentam o enfrentamento ao racismo no país.