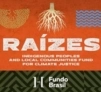Foto: Ana Paula do Rosário – ODARA Instituto da Mulher Negra / Acervo Fundo Brasil
“Nós não podemos nos render a essa narrativa de fim de mundo. Essa narrativa é para nos fazer desistir de nossos sonhos”. A frase de Ailton Krenak, líder indígena, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras, ecoa como um impulso contra o sentimento generalizado de impotência diante dos desafios sociais, ambientais e econômicos que atravessamos. Não conseguir imaginar um mundo novo e alternativas ao que se anuncia é resignar-se ao fracasso. Mas há uma geração que insiste em não desistir. Não por ingenuidade, mas porque não tem outra opção.
A juventude, historicamente, costuma ser vista sob uma dualidade. De um lado, é reconhecida como centro de energia transformadora, capaz de cobrar mudanças, protestar e exigir direitos. De outro, enfrenta certo desprezo, sendo muitas vezes desqualificada pela falta de “experiência” daqueles que alegam já ter visto de tudo. Essa lógica é explicada por Joice Forte, coordenadora do Núcleo de Formação do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDECA). Segundo ela, o neologismo adultocentrismo (ou adultismo) descreve a ideia de que pessoas acima dos 18 anos seriam socialmente superiores às mais jovens, a ponto de invalidarem a fala ou a ação de uma criança ou adolescente.
Essa noção de que a juventude é necessariamente imatura é um estereótipo que desconsidera um princípio central do campo dos direitos humanos: o das capacidades em evolução (evolving capacities). Esse conceito reconhece que crianças e adolescentes possuem, de forma progressiva, maior capacidade para exercer seus direitos, devendo, portanto, ser escutados com atenção e respeito à sua autonomia crescente. Negar-lhes esse espaço é negar cidadania.
A juventude como agente político ativo
É cada vez mais evidente que jovens querem e podem participar de forma significativa nos espaços de decisão. Em diferentes países, como Peru e Finlândia, experiências bem-sucedidas mostraram que é possível envolvê-los em orçamentos participativos, consultas públicas e projetos educacionais. No Brasil, embora essa prática ainda seja incipiente, muitos jovens já atuam em suas comunidades e escolas. Por que não incluir suas vozes também nas discussões estruturais sobre o futuro do País?
Desde 2013, o Brasil conta com o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852), que dispõe sobre os princípios e diretrizes das políticas públicas para jovens de 15 a 29 anos. Entre os direitos específicos garantidos, destacam-se o direito à participação social e política, à representação juvenil, à profissionalização, à diversidade e à sustentabilidade. Esses direitos, no entanto, só se materializam plenamente quando os jovens encontram canais reais para exercer sua voz.
Movimentos globais que ganharam espaço na internet, como o #FridaysForFuture, iniciado por Greta Thunberg, mostraram a força de jovens que, a partir de greves escolares, passaram a pressionar governos pela adoção de medidas contra a crise climática. Em 2021, jovens de diferentes países se uniram para elaborar a Carta Global das Juventudes pelo Clima, apresentada na COP26, como um apelo por ações mais concretas diante da emergência ambiental. Apesar da potência dessas iniciativas, pouco se avançou desde então — mas a insistência da juventude permanece.
Crise climática: o que os jovens esperam da COP30
Apesar de estarem entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, crianças e adolescentes seguem excluídos das instâncias formais de decisão sobre o tema. A avaliação é do guia Os Direitos das Crianças e dos Adolescentes na Pauta Climática, publicado pela ANDI – Comunicação e Direitos, que alerta para a baixa presença de representantes infantojuvenis nas negociações internacionais, mesmo diante da proximidade da COP30, em Belém.
Dados divulgados pelo UNICEF reforçam a urgência: mais de 40 milhões de crianças e adolescentes no Brasil vivem expostos a dois ou mais riscos ambientais ou climáticos. Entre os perigos apontados estão a escassez hídrica, que afeta 8,6 milhões, e o risco de enchentes, presente na vida de outros 7,3 milhões.
Nesse contexto, o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Saju/MJSP), lançou no Pará o projeto Jovens Defensores Populares. A iniciativa oferece formação em conhecimento, defesa e promoção de direitos para jovens da Amazônia que atuam em territórios periféricos e vulnerabilizados. Mais do que uma ação pontual, essa experiência reforça a importância de escutar os jovens nas decisões sobre direitos humanos e meio ambiente.
Intergeracionalidade e justiça epistêmica
Ouvir com atenção as novas gerações não significa desvalorizar as mais velhas. Ao contrário, trata-se de construir diálogos intergeracionais, capazes de criar pontes, desafiar hierarquias e promover aprendizado mútuo. Essa troca fortalece a solidariedade e ajuda a enfrentar coletivamente os desafios globais.
Para isso, é fundamental questionar por que as visões jovens são tantas vezes subestimadas. Reconhecer a legitimidade das epistemologias juvenis — suas formas próprias de ver e interpretar o mundo — é uma questão de justiça epistêmica. Isso significa não apenas abrir espaço para que falem, mas garantir que suas perspectivas influenciem políticas públicas e decisões estratégicas.
A democracia e os direitos humanos não segmentam nem excluem: integram e mobilizam toda a sociedade em busca de dignidade e justiça. Mas, para que isso aconteça, é necessário criar formas de participação estruturada, institucionalizada e transformadora. Crianças e adolescentes não devem ser vistos apenas como “o futuro”, mas como sujeitos de direitos no presente.
Paulo Freire já dizia, “não é possível viver sem sonhos”, pois eles nos guiam em direção às mudanças estruturais de que tanto precisamos. Que nós possamos sonhar e lutar junto com as novas gerações!